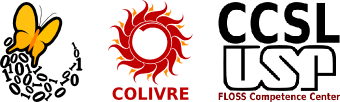O caso Maria Bethânia e a Lei Rouanet
21 de Março de 2011, 0:00 - sem comentários ainda As redes sociais vem fazendo um carnaval nesta última semana a partir da notícia veiculada pela Folha de S. Paulo de que o MinC aprovou o projeto O Mundo Precisa de Poesia, blog de R$ 1,3 milhão em que a cantora baiana Maria Bethânia irá recitar poesias em vídeos dirigidos por Andrucha Waddington, da produtora Conspiração Filmes. No Twitter, o tema virou alvo de chacota dos usuários. Muita gente pedindo R$ 1 milhão para montar um blog, alguns amadores avisando que topam trabalhar de graça e outros, como o apresentador Milton Neves, criticando a feiúra da Bethânia.
As redes sociais vem fazendo um carnaval nesta última semana a partir da notícia veiculada pela Folha de S. Paulo de que o MinC aprovou o projeto O Mundo Precisa de Poesia, blog de R$ 1,3 milhão em que a cantora baiana Maria Bethânia irá recitar poesias em vídeos dirigidos por Andrucha Waddington, da produtora Conspiração Filmes. No Twitter, o tema virou alvo de chacota dos usuários. Muita gente pedindo R$ 1 milhão para montar um blog, alguns amadores avisando que topam trabalhar de graça e outros, como o apresentador Milton Neves, criticando a feiúra da Bethânia.
As chacotas em si não merecem comentários, até porque se feiúra fosse critério para alguma coisa Vampeta não teria sido jogador de futebol, Sarney não poderia ter sido presidente e Milton Neves jamais seria apresentador de televisão. O que precisa ser discutido é a Lei Rouanet em si e as falhas já apontadas pela gestão anterior do Ministério da Cultura.
O MinC, durante a era Juca Ferreira, levantou a necessidade de reforma da legislação, destacando, entre outros argumentos, a concentração dos recursos nas mãos de poucos proponentes (sobretudo no Rio e em São Paulo). Pela proposta de reforma do MinC, o mecenato, modalidade de incentivo em que empresas destinam parte do imposto de renda para projetos aprovados pelo ministério (caso de Bethânia), perderia importância para o Fundo Nacional de Cultura. Com a mudança, a maioria dos recursos sairia direto do caixa do governo para os executores dos projetos, queimando a etapa em que, segundo definição do cineasta porto-alegrense Jorge Furtado, o artista precisa se humilhar batendo de porta em porta das grandes empresas mendigando patrocínio.
Logo que a bola da reforma foi levantada, muita gente apareceu para sair descendo a lenha na proposta. O blog paulista Cultura e Mercado, do produtor Leonardo Brant, por exemplo, esperneou o quanto pode, sustentando a tese de que o governo estaria preparando o campo para o “dirigismo cultural”, por meio do qual destinaria as verbas da cultura a criadores amigos dos ocupantes do poder.
A tese foi comprada por outros interessados no tema. A revista Época de 18 de abril de 2009, por exemplo, se negou a aceitar a reforma, dizendo que o governo queria “revogar” a lei Rouanet ao invés de reformá-la. Os argumentos da revista eram esdrúxulos e podem ser facilmente desconstruídos por qualquer leitor minimamente bem informado. A matéria alega que “foi o dinheiro da renúncia fiscal que permitiu trazer ao país superproduções como os espetáculos da companhia canadense Cirque du Soleil”, como se fosse obrigação do governo federal sustentar um evento cujo ingresso custa quase o valor integral de um salário mínimo.
Ainda segundo a reportagem, a lei é boa porque “as empresas podem fazer propaganda de suas marcas usando recursos que seriam destinados à Receita Federal”. Ou seja, segundo a publicação da editora Globo, é obrigação do governo pagar pela propaganda de megacorporações privadas que decidam patrocinar eventos culturais destinados à classe A. Imaginem se esta fosse a premissa da gestão pública em outras áreas: o governo federal bancaria hospitais particulares que cobram uma fortuna por consultas e cirurgias ou sustentaria escolas privadas para famílias abastadas que podem bancar mensalidades abusivas. É óbvio que não faz o menor sentido.
Mas como o negócio da imprensa é puramente gastar papel para inventar polêmicas ao invés de informar o leitor, a mesma revista Época resolveu se contradizer e atacar a aprovação do projeto de Maria Bethânia, apontando algumas falhas na lei Rouanet, como o fato de que ela “favorece mais os produtores que o público”. Desta vez mais contida, a publicação aponta a estimativa de que um blog como o de Bethânia custaria em torno de R$ 100 mil pelos valores de mercado.
O valor do projeto de Maria Bethânia parece realmente ser alto, ainda mais se for levada em consideração a nova informação de que o cachê da cantora pela direção artística do projeto é de R$ 60 mil por mês. Esse valor, sozinho, é o mesmo que cada Ponto de Cultura recebe por ano do governo federal para bancar uma série de atividades culturais de base.
No entanto, a gente pode ir mais fundo na questão. O blog do Dennis Oliveira, colunista da revista Fórum, argumentou com razão de que a questão em si não é propriamente o blog de Maria Bethânia ou seus valores, mas sim a legislação e a necessidade de reforma, com uma política pública de cultura transparente, democrática e democratizante.
Projetos acima de R$ 1 milhão não são raros no universo da lei Rouanet, como pode ser observado na relação de projetos aprovados pela 184ª plenária da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), a mesma que aprovou a proposta da Bethânia. Circuitos teatrais, festivais de música e artes cênicas e circulação de espetáculos são exemplos de projetos que recebem autorização para captar grandes recursos. Normalmente, não se consegue arrecadar todo o montante autorizado e os orçamentos precisam se adequar ao patrocínio oferecido.
No fim das contas, quem decide o projeto que vai ou não ser executado é o conjunto das empresas patrocinadoras, que terminam por praticar o dirigismo cultural tão criticado. Não é por acaso que existem empresas especializadas em redação, aprovação e captação de recursos para terceiros, que vivem quase que exclusivamente da lei Rouanet e dos impostos que os empresários deixam de pagar e que, por conta disso, não querem largar o osso das verbas públicas para nenhum tipo de reforma.
Na mesma 184ª reunião da CNIC, foram aprovados R$ 560 milhões em renúncia fiscal para projetos culturais. Sem desmerecer as propostas contempladas pela comissão, vale destacar que o mesmo valor, se investido no programa Cultura Viva, poderia criar mais de 3 mil Pontos de Cultura espalhados pelo País, talvez até zerando o número de municípios brasileiros sem atividades culturais financiadas e garantindo o sonho de uma rede capilarizada e democrática.
Em 2010, segundo a Época, a lei Rouanet resultou em R$ 1,1 bilhão investidos em projetos culturais. A estimativa do ex-ministro Juca Ferreira era de que, com a reforma, o Fundo Nacional de Cultura tivesse uma injeção de 70% desse montante. Ou seja, o orçamento disponível para a pasta, que hoje é de R$ 2,2 bilhões, teria um acréscimo de 30% para a execução de políticas públicas. Esse novo recurso poderia contornar os vícios de mercado do mecenato, como a concentração dos patrocínios mal distribuído geograficamente enas mãos de poucos artistas e produtores.
Esta discussão tem que prosseguir. A reforma cultural é necessária e a lei Rouanet é apenas um ponto do que precisa ser feito. O caso do blog da Maria Bethânia já serviu para reanimar a discussão, que estava fora da pauta.
Haiku, o melhor dos sistemas operacionais realmente alternativos
16 de Março de 2011, 0:00 - sem comentários aindaJá ficou claro pelas últimas postagens que defendo a diversidade de softwares como garantia da liberdade na internet. Quanto mais opções de escolha para executar tarefas em nossos computadores tivermos, maior é a garantia de privacidade, rapidez e segurança. Mais programas disponíveis representam mais ideias, mais inovação, mas soluções para problemas semelhantes. Melhor ainda se as opções estiverem no campo do software livre.
Nestes últimos dias estive pesquisando sobre sistemas operacionais realmente alternativos. Ressalto o termo realmente porque, no mercado de SO’s, o Linux e o Mac OS não podem ser considerados alternativos, visto que já tem uma rodagem considerável e contam com um grande número de usuários e comunidades fiéis à filosofia de seus projetos. O Linux conta, inclusive, com apoio de governos e grandes empresas, que investem no sistema visando economia de custos com software.
Pesquisando e lendo sobre o assunto em blogs e wikis por aí, encontro uma boa variedade de projetos de sistemas operacionais open source, a maioria ainda em fase de concepção. O FreeBSD, que tem um mascote aterrorizador de criancinhas, parece ser o mais desenvolvido. Trata-se de um sistema com uma comunidade de entusiastas visivelmente rival dos geeks pró-Linux. O ponto forte, defende a comunidade, é a segurança e a estabilidade. Assim como o Linux, é bastante utilizado em servidores e empresas que prezam pela solidez das informações armazendas.
Outro sistema ainda embrionário que tem uma certa ambição é o ReactOS, criado com a simples missão de servir como clone do Windows. Para isso, ele está sendo desenvolvido para rodar arquivos executáveis, o que, de quebra, acaba incluindo vírus e trojans, os grandes males do sistema do Bill Gates. A base do ReactOS é a versão NT do Windows, do início da década passada. Segundo os clonadores, o Windows não mudou muito de lá para cá, o que permite que o sistema rode os programas das versões XP, Vista e 7.
Mas o sistema operacional open source que realmente parece vir para colaborar com nós, reles usuários mortais desarmados de artimanhas de códigos de programadores, atende pelo nome de Haiku. Para falar mais sobre ele, é preciso contar uma historinha que remonta à década de 1990. Naquela época, a Apple não era a coqueluche dos usuários moderninhos e era considerada fracassada na briga com a Microsoft. Um executivo da Apple criou então, a partir do zero, um novo sistema operacional, batizado de BeOS, com o objetivo de ser incorporado aos computadores da marca da maçã.
A estratégia deu errado. A Apple não entrou em acordo pela compra dos direitos da novidade e seus criadores fundaram uma nova empresa, oferecendo o BeOS a consumidores finais e vendendo máquinas com o novo sistema. O negócio, no entanto, não foi para a frente e a Be Inc acabou entrando na justiça contra a Microsoft por práticas monopolistas, num processo que acabou em acordo extra-judicial. Em 2001, o BeOS foi descontinuado após a venda do código-fonte para a empresa Palm.
Acontece que o BeOS era um excelente sistema operacional, voltado para o usuário final e com foco em multimídia. Deixou para trás algumas centenas de fãs, que se tornaram viúvas do jovem sistema. Para não deixar esse sistema morrer, os admiradores se juntaram e resolveram reeditar o BeOS do zero, trabalhando para relançá-lo como software livre com o nome de Haiku (a alcunha é referência ao modelo de poesia japonês de três versos).
A empreitada já dura dez anos. Não é simples o processo de reescrever voluntariamente um sistema operacional inteiro. Mas os resultados estão sendo animadores. As primeiras versões alfa (voltada para curiosos e pesquisadores que querem testar a novidade) foram disponibilizadas no site do projeto. Resolvi baixar e testar uma versão usando o VirtualBox, programa que simula uma máquina virtual dentro do Windows.
O que pude ver é que o Haiku tem uma grande diferença em relação ao Linux: enquanto no sistema do pingüim tudo parece que precisa de código para ser executado (basta ver os tutoriais nerds espalhados pela rede), no Haiku tudo é gráfico. O visual é o mesmo do antigo BeOS, mas ainda parece ser mais atual do que algumas versões Linux, como o Ubuntu. Consegui, já de cara, acessar a internet, conferir novidades na Viraminas, ler e-mail, tuitar, assistir vídeos do Memória.doc, abrir fotos em alta resolução e ouvir músicas em mp3:

 Uma das coisas que mais me interessou no Haiku foi a facilidade de uso, ao contrário do que encontrei nas primeiras vezes que tive de lidar com o Linux. Sem dúvida, o fato de ser pensado para atender a usuários comuns e não a programadores ou servidores web traz uma grande diferença.
Uma das coisas que mais me interessou no Haiku foi a facilidade de uso, ao contrário do que encontrei nas primeiras vezes que tive de lidar com o Linux. Sem dúvida, o fato de ser pensado para atender a usuários comuns e não a programadores ou servidores web traz uma grande diferença.
Embora esteja visivelmente em fase inicial de desenvolvimento, o projeto pode ser uma novidade no meio open-source, sobretudo no que diz respeito a multimídia. O Linux não é um sistema com aptidão para edição de vídeo, por exemplo, e as soluções existentes são capengas e instáveis, embora bem intencionadas. O Haiku pode vir suprir esta demanda, inclusive servindo de referência para projetos como Pontos de Cultura.
Interessado que fiquei no sistema, procurei um dos programadores responsáveis pelo projeto, o brasileiro Bruno Albuquerque, engenheiro do Google em Belo Horizonte. Ele respondeu a algumas perguntas por e-mail:
No que a chegada do Haiku pode contribuir para o panorama atual do mercado de softwares livres?
Em seu estágio atual, o Haiku não é um competidor direto dos sistemas operacionais existentes. É preciso se ter em mente que o mesmo é, basicamente, um projeto de pesquisa (embora seja um bem sólido e avançado). Isto posto, uma das coisas que sempre procuramos fazer com o Haiku e que é considerávelmente diferente do que se costuma ver em outros sistemas operacionais existentes é o fato de que todas as decisões de engenharia no projeto são tomadas com base na noção de que a resposta ao usuário é a coisa mais importante.
O Haiku pretende ser voltado para consumidores finais ou será um sistema voltado para curiosos e “viúvas” do BeOS? Qual é o público-alvo do projeto?
O objetivo final é criar um excelente sistema operacional para desktops em geral. Hoje, o mesmo é mais interessante para desenvolvedores, pesquisadores e curiosos.
O Haiku é o mesmo BeOS de dez anos atrás ou é um novo sistema com a mesma cara? O que ele traz de novidade em relação ao sistema original?
De forma simplificada, o Haiku é o BeOS reescrito em forma de código aberto. Seguimos a mesma filosofia original do BeOS e, pra versão R1, mantemos compatibilidade com programas desenvolvidos para o mesmo. Mas as semelhanças param por aí. O Haiku atual é bem mais moderno do que o BeOS foi um dia, suporta mais hardware, tem um interface mais moderna, novas APIs para desenvolvimento e, também, uma série de outras melhorias em todos os componentes do sistema operacional.
Você acredita que o Haiku tem cacife para suprir a demanda de soluções multimídia open-source, como edição de áudio e vídeo?
Tecnicamente, sim. Mas um sistema operacional usado para uma tarefa específica só vai ser tão bom quanto as ferramentas para execução dessa tarefa existentes para o mesmo. Em termos gerais, portar soluções de multimídia do Linux para o Haiku é factível (embora não seja trivial) e o resultado seria, muito provavelmente, melhor do que a solução original no Linux (assumindo que o port seja feito usando-se recursos providos pelo Haiku sempre que possível).
Como você enxerga as políticas públicas brasileiras de apoio ao software livre?
Ainda temos bastante espaço para avançar nas políticas públicas relacionadas a software livre, mas não tenho a menor dúvida que o trabalho feito pelo governo anterior (e que eu imagine vá ser continuado pelo atual) tenha sido excepcional.
Como o projeto Haiku se mantém? Quem são os colaboradores e patrocinadores?
O Haiku é mantido por uma entidade sem fins lucrativos chamada Haiku Inc., com sede nos EUA. Eu, inclusive, sou vice-presidente da mesma. 100% dos recursos para manutenção do projeto vem de doações dos mais variados locais do mundo. Essas doações pagam a infraestrutura do projeto (site, repositório) e, de vez em quando, um ou outro engenheiro para desenvolver uma tarefa específica. Desenvolvedores domundo todo também contribuem seu tempo para o projeto, desenvolvendo o mesmo. O Google também ajuda o projeto através do Google Summer of Code, pagando estudantes para trabalhar no mesmo.
Existe alguma participação do Google no projeto?
Fora o GSoC, o fato de que eu trabalho no Google e de que existem outros engenheiros do Google envolvidos de uma forma ou de outra com o projeto, não.
Existe um calendário de desenvolvimento do Haiku? Alguma previsão para a versão 1.0?
“Quando estiver pronto”. ![]() o R1 está chegando, mas sendo um projeto tocado por voluntários, é difícil dizer com qualquer precisão quando isso deve ocorrer. Pode ser 1 mês, 1 ano ou 1 século. Depende do ânimo e tempo dos desenvolvedores.
o R1 está chegando, mas sendo um projeto tocado por voluntários, é difícil dizer com qualquer precisão quando isso deve ocorrer. Pode ser 1 mês, 1 ano ou 1 século. Depende do ânimo e tempo dos desenvolvedores.
Eles se acham a última bolacha do pacote
15 de Março de 2011, 0:00 - sem comentários ainda
Eu nem sou tão chegado assim em cinema iraniano, até porque para gostar de alguma coisa é preciso, antes, conhecê-la. Mas vamos supor que eu fosse um cinéfilo fissurado pelos filmes da terra dos aiatolás. Morando no interior de Minas, não teria nenhuma alternativa de acesso às badaladas películas do oriente médio, até porque as locadoras só se dão o direito de oferecer produções norte-americanas. Dispensável dizer que também não encontraria qualquer título de outros países reconhecidos pela produção cinematográfica, como Índia, China, Japão, Rússia, Cuba ou Argentina.
Com a internet, no entanto, a coisa fica diferente. Posso visitar, por exemplo, este site, que reúne vários mecanismos de busca de arquivos torrent para procurar o filme que eu quiser. Na maioria das vezes, mesmo quando se trata de filmes marginais, alternativos ou de países distantes, as buscas são bem sucedidas. No caso do filme iraniano, você não fala persa? Sem problemas. Provavelmente no opensubtitles.org você vai encontrar legendas para baixar.
 Esta breve introdução serve apenas para ilustrar o quanto a era da internet nos dá maior direito de escolha em relação aos bens culturais que consumimos. Até poucos anos, os estúdios hollywoodianos e as grandes gravadoras de discos dominavam todo o mercado, desde a produção até a distribuição, controlando todos os filmes e músicas aos quais teríamos acesso. Sempre se produziu cinema no mundo todo, mas somente a indústria norte-americana tinha o poder de distribuir seus produtos simultaneamente ao redor do mundo, caracterizando um monopólio difícil de ser quebrado. Hoje o cenário é outro, e a grande briga dos estúdios é garantir, sobretudo via legislação, que a livre circulação de bens culturais seja freada, caracterizando-a como pirataria e outros apelidos afins.
Esta breve introdução serve apenas para ilustrar o quanto a era da internet nos dá maior direito de escolha em relação aos bens culturais que consumimos. Até poucos anos, os estúdios hollywoodianos e as grandes gravadoras de discos dominavam todo o mercado, desde a produção até a distribuição, controlando todos os filmes e músicas aos quais teríamos acesso. Sempre se produziu cinema no mundo todo, mas somente a indústria norte-americana tinha o poder de distribuir seus produtos simultaneamente ao redor do mundo, caracterizando um monopólio difícil de ser quebrado. Hoje o cenário é outro, e a grande briga dos estúdios é garantir, sobretudo via legislação, que a livre circulação de bens culturais seja freada, caracterizando-a como pirataria e outros apelidos afins.
 Há outros interessados nessa briga. Na era dos computadores e dispositivos móveis, aquele que conseguir colocar seu equipamento na mão de mais consumidores tem maior chance de restringir o acesso a filmes e músicas exclusivamente em suas lojas virtuais. Daí vem a euforia de grandes corporações em busca de se tornarem padrões de mercado, como por exemplo, o leitor de livros eletrônicos Kindle, da Amazon, e o tablet iPad, da Apple, este último o queridinho dos moderninhos.
Há outros interessados nessa briga. Na era dos computadores e dispositivos móveis, aquele que conseguir colocar seu equipamento na mão de mais consumidores tem maior chance de restringir o acesso a filmes e músicas exclusivamente em suas lojas virtuais. Daí vem a euforia de grandes corporações em busca de se tornarem padrões de mercado, como por exemplo, o leitor de livros eletrônicos Kindle, da Amazon, e o tablet iPad, da Apple, este último o queridinho dos moderninhos.
Esses aparelhos, por melhores que sejam, restringem o acesso a uma única loja virtual, a do próprio fabricante, na tentativa de obter lucro com a venda de bens culturais. Tentam voltar à lógica do controle da distribuição, restringindo a liberdade de escola em prol do lucro.
E se antigamente as gravadoras de música faziam uso do jabá para garantir vitrine a seus principais nomes nas rádios e tevês brasileiras, atualmente os fabricantes de produtos móveis parecem usar do mesmo expediente. Duas das revistas semanais de maior repercussão no Brasil, Época e Veja, criaram a rotina de estampar os produtos da Apple em suas capas.
Qualquer leitor mais atento percebe que a estratégia destas publicações é a de mostrar que os brinquedinhos de Steve Jobs, sempre voltados para um mercado elitista, são revolucionários, inovadores, práticos, elegantes, a última bolacha do pacote. Ora, no mundo de hoje, onde tudo muda a cada segundo, é relativamente difícil encontrar algum produto que não seja inovador, prático, elegante, etc. Mas, ao contrário do que defendem as revistas mercadológicas das grandes editoras, a inovação da era digital não está nos brinquedinhos das grandes empresas tecnológicas, pois nada pode ser mais revolucionário que o código aberto, o software livre, a cultura hacker, o espírito libertário do torrent e de tantas outras novidades nascidas com a internet. É a aspiração à liberdade que originou a internet e todas as suas benesses para a comunidade mundial, e não os interesses comerciais das corporações de mídia e tecnologia.
Mas o jabá da Apple claramente corre solto, tentando nos fazer acreditar que a era digital evolui apenas no passo das grandes corporações. É apenas um sinal de que o mundo muda, mas algumas práticas se mantêm.
Doc sobre idolatria estreia em Divinópolis
14 de Fevereiro de 2011, 0:00 - sem comentários ainda Estreou no último sábado no Teatro Municipal Usina Gravatá, em Divinópolis, o documentário La Borba, o segundo do divinopolitano Adriano Luiz Reis. O título sugere por si só o enredo, mas, na verdade, o filme não é uma simples biografia de uma das principais figuras da era do rádio no Brasil, Emilinha Borba. Trata-se de uma leitura sobre a idolatria e a paixão de fãs por ídolos, sintetizada nas memórias de um admirador de Emilinha, Aílton Rodrigues.
Estreou no último sábado no Teatro Municipal Usina Gravatá, em Divinópolis, o documentário La Borba, o segundo do divinopolitano Adriano Luiz Reis. O título sugere por si só o enredo, mas, na verdade, o filme não é uma simples biografia de uma das principais figuras da era do rádio no Brasil, Emilinha Borba. Trata-se de uma leitura sobre a idolatria e a paixão de fãs por ídolos, sintetizada nas memórias de um admirador de Emilinha, Aílton Rodrigues.
Entre depoimentos de Aílton e trechos de arquivo da carreira de Emilinha, La Borba vai estreitando cena a cena os laços entre os dois personagens. Aílton é um cara um tanto quanto folclórico. Emociona logo ao início do filme, quando lembra que foi surpreendido, ainda na década de 50, com a notícia de que a cantora estava em Divinópolis para uma apresentação no antigo Cine Popular, o maior cinema da época na cidade. E, depois, vai revelando aos poucos uma idolatria que é ao mesmo tempo divertida e emocionante.
De tão fã, Ailton chegou a ficar íntimo de Emilinha. Serviu de guia a estrela do rádio em algumas de suas andanças por Minas Gerais e prestou a ela o que a própria cantora considerou a maior homenagem que já recebera: a criação do bar La Borba, que tinha as paredes inteiras cobertas com fotos e recortes de Emilinha.
Bacana foi acompanhar a apresentação com o teatro Gravatá lotado. Deu para perceber que as poltronas estavam repletas de fãs da cantora, que acompanhavam os trechos das marchinhas e dos sambas que Emilinha interpretava na tela. Vale registrar a presença de fãs de outros estados, membros de fã-clubes espalhados pelo País. Exemplo é do escritor Luiz Sérgio Quarto, autor do livro infantil Emília, Emilinha, Miloca, cujo tema considero aqui ser desnecessário esclarecer. Basta dizer apenas que mistura letras de marchinhas e ilustrações infantis e serve como um interessante complemento para-didático.
Por projetos como o La Borba, o trabalho de documentarista de Adriano Luiz Reis vai se consolidando como um dos mais bem sucedidos da cidade. Por trazer à tona a memória de personagens do cotidiano, seus pontos de vista e peculiaridades, as obras prestam um serviço à difusão e à valorização da cultura local, seja ela ligada a artistas populares, como no caso do documentário anterior sobre Celeste Brandão, ou à cultura de massa, como no lançamento La Borba. Vale a pena conferir.
Sobre a escola na era digital
10 de Fevereiro de 2011, 0:00 - sem comentários ainda “As crianças de hoje não aprendem nada! O ensino é um absurdo!” Mais uma vez me vejo tentado a começar um post com uma fala típica das que escutamos nas entrevistas do Museu da Oralidade. Dita muitas vezes por educadores dos tempos do ensino ginasial, a citação em questão é comum quando os saudosos dos tempos antigos lembram-se dos estudos de latim e francês e de quando todos os alunos da sexta série eram obrigados a saber de cor a capital e a população até dos países da europa oriental.
“As crianças de hoje não aprendem nada! O ensino é um absurdo!” Mais uma vez me vejo tentado a começar um post com uma fala típica das que escutamos nas entrevistas do Museu da Oralidade. Dita muitas vezes por educadores dos tempos do ensino ginasial, a citação em questão é comum quando os saudosos dos tempos antigos lembram-se dos estudos de latim e francês e de quando todos os alunos da sexta série eram obrigados a saber de cor a capital e a população até dos países da europa oriental.
É claro que eu entendo e até acho bonito que os mais experientes tenham saudades e se orgulhem de quando ocupavam as carteiras dos grupos escolares. Aquele era o tempo em que os professores eram os grandes detentores do conhecimento e que cada desvio de olhar do aluno poderia resultar num severo castigo. Mas a gente tem que admitir que o mundo é outro e os desafios também.
Paulo Freire nos ensinou que ler não é apenas decodificar letras e sílabas, mas entender a mensagem que está sendo passada, inclusive em sua dimensão social e política. É preciso saber pensar e, para isso, mais importante que ler códigos é preciso saber ler o mundo. Só assim a pessoa deixa de ser objeto e passa a ser sujeito de sua ação, conquistando a liberdade.
A leitura do mundo de hoje é bem diferente daquela de 50, 70, 90 anos atrás. O mundo de hoje é midiatizado. Significa que estamos diante, todo o tempo, de mensagens que nos vêm pela mídia, sobretudo a de massa. A criança de hoje tem muito mais acesso à informação do que as do passado, pois dá os primeiros passos assistindo televisão, freqüentando o cinema, escolhendo filmes para alugar e navegando na internet.
Nesse mundo atual, a escola não precisa mais cumprir seu papel de única fonte de informação e cultura. Pelo contrário, ela tem que ser uma ponte entre a criança e a informação de qualidade, fazendo com que o estudante desperte o quanto antes para a necessidade de compreender as mensagens sociais e políticas que estão por trás dos programas de televisão, dos filmes de hollywood e das músicas que escutam no rádio.
Fazer esta leitura do mundo midiatizado de hoje é o básico para que os meninos da era digital tenham capacidade de escolha e cresçam independentes do processo das indústrias culturais, que nos querem agindo e pensando conforme seus interesses corporativos e econômicos.
Assim como o processo de aprendizagem da leitura está atrelado ao da escrita, o da leitura do mundo também precisa estar ligado à da escrita da visão de mundo da criança. Essa escrita, agora, pode (e deve) usar também de meios digitais, uma vez que as tecnologias chegaram para fazer parte da vida de todos.
Peguemos por exemplo o audiovisual. O processo de produção de um filme, seja ele hollywoodiano ou do cinema novo brasileiro, envolve diversas escolhas, que vão desde a elaboração do roteiro à montagem final. Durante o andar da carruagem, determina-se a estética e o discurso daquele produto cultural. Esse discurso carrega consigo modelos de pensamento, gostos, estilo de vida, comportamento e contextos que qualquer espectador minimamente atento consegue enxergar em seu aspecto político, social e econômico. Quando se fala do cinema industrial ou da televisão comercial, por exemplo, fica claro que há uma mensagem de alienação do pensamento, de obediência e subserviência aos modelos instituídos.
Como ensinar, então, crianças e adolescentes a fazer esta leitura crítica do mundo? É preciso formar jovens:
- Criativos, que tenham interesse em recriar sempre a realidade que os cerca;
- Críticos, dotados de critério, e que não aceitem os formatos padrões da indústria cultural de massa como únicos;
- Curiosos, que não aceitem nenhuma informação como pronta, mas a entendam como um ponto de partida para descobrir mais e mais informação.
Ora, já está mais do que claro que a barreira entre emissor e receptor dos meios de comunicação está caindo por conta do avanço da internet. Isto traz grandes consequências para o modelo industrial de produção cultural, que leva rios de dinheiro para as mãos de poucos e procura sempre deixar a massa uniforme, acéfala, inerte, acrítica.
Os estudantes de hoje tem que se preparar para esse novo contexto desde os primeiros dias da escola. A educação de hoje tem que levar para o estudante a possibilidade de fazer a leitura de seu mundo utilizando das mídias acessíveis, seja o audiovisual, o hipertexto, o radiofônico. As crianças tem que aprender a lidar com o computador, as câmeras digitais, os telefones celulares para produzir, compartilhar, discutir e compreender conteúdos e, assim, dirigir melhor o olhar crítico.
Além de estarem formando a visão do mundo local que as cerca, elas estarão aprendendo a decodificar os processos que envolvem as mídias de massa, que ainda ocupam um lugar central na sociedade atual, mas que estão com os dias contados. Essa recriação da educação será comprida, mas com as gerações cada vez mais informatizadas, a tendência é que, em breve, consigamos aproveitar as tecnologias para mudar a escola e consolidar de vez a revolução que está em curso.