Texto de Felipe Fonseca
Originalmente publicado na revista “A Rede”
Economia criativa é uma das expressões quentes do momento. É uma definição que tem influência das políticas de “indústrias criativas” desenvolvidas no Reino Unido ao longo da última década e meia. Políticas que partem de uma interpretação particular sobre o que seriam as áreas “criativas”: aqueles setores da economia nos quais o conhecimento aplicado e a produção simbólica teriam um papel central – como é o caso do design, da mídia e do entretenimento, das artes e áreas similares. Afirmam ainda a centralidade da criatividade individual para geração de riqueza, por meio de mercados baseados na exploração de propriedade intelectual. É importante questionar algumas dessas premissas.
No começo da década passada, a referência das indústrias criativas foi considerada um modelo a ser replicado. Com o passar dos anos, incorporou outras referências e áreas de atuação, como turismo, gastronomia, tecnologia da informação, sustentabilidade. Governos investiram no conceito de bairros ou cidades criativas e pesquisadores como a brasileira Ana Carla Fonseca dedicaram-se a conceituar e investigar uma economia criativa que relacionasse economia, cultura e tecnologia.
Em paralelo, eventos como a convenção My Creativity (Amsterdam, 2006) criticavam a superficialidade de grande parte do discurso oficial. Apontavam a discrepância entre a visão triunfalista – que tinha na economia criativa uma utopia –, e a realidade cotidiana do precariado digital. O precariado é a força de trabalho dessas áreas, formada em grande parte por profissionais autônomos ou subcontratados, sem horário de trabalho definido, garantias trabalhistas ou órgãos de negociação coletiva. Para azedar mais o caldo, apontavam para os riscos da gentrificação, efeito colateral de projetos de regeneração urbana que expulsam populações fragilizadas dos bairros criativos.
Por causa dessa tensão entre o potencial dos setores criativos como motores de transformação social e seus efeitos reais na cidade se torna ainda mais importante articular novas estratégias. As palavras usadas para isso têm grande poder. A mudança de um discurso de indústrias criativas para um de economia criativa já é uma sinalização interessante: pode significar que se saiu de um foco exclusivo na produção e distribuição de valor comercial de cima para baixo, em favor de uma visão sistêmica, capaz de visualizar relacionamentos e fluxos de valor multidirecionais.
Mas a parte “criativa” também merece algum questionamento. Esse tipo de adjetivo costuma funcionar por oposição. Ou seja, quando falamos em uma cidade criativa, estamos recusando a cidade acomodada, conservadora, adormecida, estática. Da mesma forma, devemos buscar uma economia sustentável em oposição a uma economia que desperdiça recursos, talentos e infraestrutura. E queremos também uma sociedade participativa e solidária em lugar de uma sociedade excludente, autoritária e elitista. Por fim, buscamos uma população interconectada em lugar de uma população fragmentada, formada por guetos que não se relacionam. Podemos, sim, falar em uma economia criativa, desde que não esqueçamos que buscamos uma economia dentro de uma sociedade urbana plural; e que queremos trabalhar com uma economia criativa que também seja sustentável, participativa e conectada. Como avançar nesse sentido?
É aqui que as tecnologias de informação e comunicação adquirem um papel ainda mais central. Ao mesmo tempo em que se formava o discurso que resultou na economia criativa, o Brasil assumia relevância internacional com a adoção das tecnologias livres e abertas como instrumentos de inclusão e participação na sociedade da informação. Mais do que isso, o país foi pioneiro no desenvolvimento de políticas públicas de cultura digital, que reconheciam o fazer das novas tecnologias como essencialmente cultural. Uma estratégia de economia criativa relevante para nossos contextos particulares precisa incorporar e expandir esse legado, além de se relacionar com os campos da economia solidária e da tecnologia social que fazem a articulação entre inovação e contextos sociais diversos.
Para construir as bases de uma economia criativa, precisamos começar com o acesso às TICs, portanto. É preciso que o acesso impulsione a inovação atenta a demandas da sociedade como um todo. Incentivar a criatividade é importante não somente para a produção de mídia, design, moda e gastronomia, como também para saneamento básico, coleta de lixo, serviços de defesa civil, mobilidade urbana, saúde pública e tantas outras áreas.
Além disso, as experiências do software livre, do código aberto e do conhecimento livre, se colocadas em diálogo com a inovação cotidiana na forma das gambiarras e dos mutirões, apontam para a viabilidade e a relevância de estratégias que reconheçam o caráter coletivo e colaborativo de boa parte da inovação contemporânea. Por esses motivos, a própria ideia de empreendedorismo deve ser repensada. Não podemos nos limitar a um empreendedorismo somente focado em abrir empresas comerciais. Voltar todos os esforços da criatividade para o indivíduo, para o mercado e para a propriedade intelectual é um desperdício do talento que poderia ser aproveitado para enfrentar questões importantes da sociedade. Onde fica o empreendedorismo social, em rede?
Por essas razões que políticas públicas de inclusão digital devem explorar o potencial da economia criativa. Podem estimular o surgimento de projetos criativos articulados em telecentros, agora ressignificados como laboratórios experimentais que busquem enfrentar demandas de suas próprias comunidades com ações inovadoras (e sustentáveis, participativas, solidárias, conectadas, livres). Os instrumentos para isso já temos.




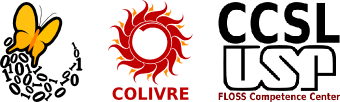
0sem comentários ainda